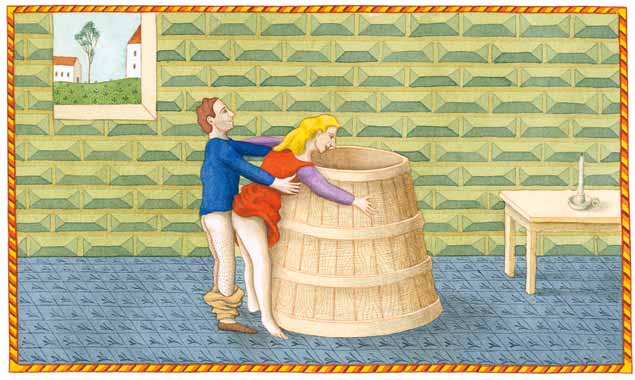HISTÓRIA
Escrevam o que eu li
RESUMO
Capítulo desprezado na aurora da historiografia brasileira e valorizado nos anos 1970 por Kenneth Maxwell, a Inconfidência Mineira ganha, sob a coordenação do britânico, nova antologia. "O Livro de Tiradentes" retraça e analisa a influência das ideias libertárias dos colonos ingleses nos EUA sobre a conspiração das Gerais.
-
Poucos episódios da história brasileira deram tanto o que falar como a Inconfidência ou Conjuração Mineira de 1789. Inconfidência ou conjuração? Dá quase no mesmo, pois a primeira significa "infidelidade ao príncipe", e a segunda, conspiração contra ele.
Prosseguindo com os dilemas vocabulares, é válido dizer história brasileira sem que houvesse o Brasil como nação no final do século 18? Claro que sim, deixando os preciosismos de lado, sobretudo neste caso. Porque a Inconfidência Mineira, além de esboçar, na época, alianças com outras capitanias, foi tema impactante na construção da memória nacional. Memória, história e historiografia: dimensões do conhecimento que seguem juntas, rivalizando desde sempre.
Basta lembrar que, no século 19, em meio à construção do Estado imperial, a Inconfidência nem sequer era considerada tema relevante e, no campo da memória, não tinha valor para a caracterização da identidade brasileira. O século 19 era tempo de Império, e a dinastia reinante era a mesma do século 18, em Portugal, a Casa de Bragança, contra a qual se insurgiram os inconfidentes. Melhor silenciar.
O primeiro a mencionar a Inconfidência foi o historiador inglês Robert Southey, em sua "History of Brazil", publicada antes mesmo da independência, entre 1810 e 1819.
Minimizou, porém, a importância do episódio, assim como o principal historiador do oitocentos brasileiro, Francisco Adolpho de Varnhagen, autor da portentosa "História Geral do Brasil", em cinco volumes (1854-57). Historiador competente nas lides da pesquisa documental, Varnhagen era, porém, um bajulador da monarquia e mentor da tese de que a nossa história era nada mais, nada menos do que uma continuação da história portuguesa.
A intelectualidade abrigada no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro --criado em 1838 para escrever a história da jovem nação--, ainda que polemizasse sobre diversos temas, como a importância do índio (mas não a do africano) em nossa formação histórica, não dava bola para os movimentos conspiratórios do século 18 ou do início do 19. Celebravam o modelo de independência vencedor, encabeçado por dom Pedro 1º.
Dos gabinetes do instituto às ruas do Rio de Janeiro: foi na atual praça Tiradentes, que já se chamou Rossio Grande, no século 17, e na praça da Constituição (a portuguesa), em 1821, que se erigiu a estátua equestre de dom Pedro 1º, em 1862. Justo no lugar onde Tiradentes foi enforcado e esquartejado, em 1792.
A praça só ganhou o nome atual em 1890, com a Proclamação da República, esta sim valorizadora da Inconfidência Mineira como precursora da independência nacional. História ou memória? História nova, republicana, que por isto valorizou a primeira ideia de República esboçada no Brasil, à diferença da historiografia imperial.
Justiça seja feita. O historiador carioca Joaquim Norberto de Sousa e Silva (1820-1891) publicou uma importante "História da Conjuração Mineira", em 1873, editada pela Garnier. Foi o primeiro a utilizar os Autos da Devassa, em versão manuscrita, o que não é pouca coisa. Mas a importância da Inconfidência só foi reconhecida após 1889, sobretudo pelo Estado, empenhado em reconstruir a memória nacional à luz dos valores republicanos.
José Murilo de Carvalho esclarece, no clássico "A Formação das Almas" (1990), como o até então obscuro Tiradentes foi transformado em herói nacional; em pinturas e retratos, é representado como o próprio Cristo, mártir da República: cabelos longos, barba e bigode.
Nossa historiografia, neste ponto, ficou atrás da história e da memória. O celebrado Capistrano de Abreu, em seus "Capítulos de História Colonial" (1907), tratou a Inconfidência Mineira com desfaçatez, afirmando que mal se diferenciava dos levantes pernambucanos, quer a Guerra dos Mascates (1710-11), quer a Revolução de 1817 contra o futuro dom João 6º, pai de nosso primeiro imperador.
DEVASSA
Desprezada pelos historiadores brasileiros ou mitificada pela memória republicana, a Inconfidência Mineira precisou de um brasilianista para, de fato, vir à luz, como objeto da história brasileira. Coube ao britânico Kenneth Maxwell a tarefa demiúrgica de explicar a Inconfidência Mineira em livro que, na versão brasileira (1977), intitulou-se "A Devassa da Devassa". O original em inglês data de 1973, mas as duas edições apareceram durante os anos de chumbo no Brasil.
Maxwell "devassou" a urdidura da conspiração, considerando sua relação com a conjuntura europeia do período --tempo de revolução -- e com o estilo da administração colonial, em especial o sistema de contratos. A cobrança de impostos atrasados (derrama) foi mesmo o estopim da conspiração, embora o próprio governador das Minas, o visconde de Barbacena, tenha considerado a cobrança abusiva.
Não por acaso, Kenneth Maxwell é o coordenador de "O Livro de Tiradentes" [org. Bruno Carvalho, John Huffman e Gabriel de Avilez Rocha; trad. Maria Lucia Machado e Luciano Vieira Machado, Companhia das Letras, 2013, R$ 38, 458 págs.], obra de grande valor, pois acrescenta novidades factuais e suscita reflexões sobre a mais badalada conjuração da história luso-brasileira.
Que livro é esse? Tiradentes escreveu algum livro? Nada disso. Tiradentes tinha, sim, um exemplar do "Recueil des Loix Constitutives des États-Unis de l'Amérique", tradução para o francês de vários documentos da Revolução Americana, com destaque para a Declaração de Independência, os Artigos da Confederação e as Constituições de 6 dos 13 Estados que compunham a república.
O "Livro de Tiradentes" é, na verdade, a primeira tradução para o português daquele "Recueil", publicado em Paris em 1778. Nada comprova melhor a presença das ideias dos revolucionários estadunidenses na Inconfidência do que a circulação deste livro entre os conspiradores das Gerais: ideias e fórmulas políticas que prevaleciam, de longe, sobre as que motivaram a Revolução Francesa irrompida no mesmo ano.
Pouco antes de ser preso no Rio, em 10 de maio de 1789, Tiradentes deu o livro para Francisco Xavier Machado, porta-estandarte dos Dragões de Minas, para que o levasse de volta às Gerais. O dragão, porém, entregou o livro ao governador, visconde de Barbacena, originando uma investigação paralela à devassa movida contra os inconfidentes.
No seu ensaio introdutório, Maxwell conta em detalhes a história desse livro, traduzido para o francês por iniciativa de Benjamin Franklin, embaixador dos revolucionários americanos na corte dos Bourbons. Boa parte dessa história está relacionada à busca do apoio francês para a guerra contra os ingleses, o que acabou ocorrendo, além de divulgar a revolução na Europa. O francês era a língua diplomática por excelência, além de ser a língua dos "philosophes" do Iluminismo setecentista.
No tempo da Conjuração Mineira, alguns desses textos normativos tinham caducado, como os Artigos da Confederação, pois a Constituição dos Estados Unidos já tinha sido aprovada em 1787.
Em todo caso, o livro é de enorme interesse, pois permite rastrear a cultura política dos inconfidentes. A solução radical dos revoltosos das colônias inglesas, presente na Declaração de 1776, sem dúvida pesou na conspiração das Gerais, o que se confirma nos documentos da devassa, presos os inconfidentes. Afinal, entre 1788 e 1789, os conspiradores parecem ter se inspirado na Revolução Americana, sobretudo porque ela explodiu com motivações antifiscais.
Nesta edição do "Livro de Tiradentes", além do texto de Maxwell, há outros dois muito valiosos: uma análise erudita do conteúdo do "Recueil" assinada por pesquisadores de Harvard e Princeton, e um estudo de Júnia Furtado e Heloísa Starling, docentes da UFMG, sobre a cultura política dos inconfidentes.
Destaque para as considerações sobre o valor da república como regime de governo; a ideia de pátria, que variava do arraial do Tejuco até Minas, embora os conspiradores tenham buscado atiçar outras capitanias para o movimento, sem nenhum êxito; o lastro intelectual dos conspiradores, formados em Coimbra, na maioria, alguns em Montpellier, na França, um deles na Inglaterra.
Entre outras qualidades, esse livro permite aprofundar o impacto real da ideias revolucionárias dos colonos ingleses na conspiração dos mineiros. O famoso encontro de José Joaquim da Maia, codinome Vendek, com Thomas Jefferson, na França, em 1786, é somente a ponta de um iceberg. Os conjurados não só estavam a par da experiência norte-americana como sonhavam com eventual apoio militar dos EUA. Delírio.
Dois aspectos desse paralelismo merecem uma palavra a mais. A questão da representação política, por exemplo, nos EUA, se ancorava nos Estados federados, herdeiros da autonomia institucional de cada colônia; no Brasil --onde, já dizia Capistrano, não havia sequer uma "consciência capitaneal"--, os conspiradores apostaram nas câmaras municipais, reduto dos "homens bons" na América portuguesa. Uma instituição arcaica. Impossível compará-la com os comitês distritais do republicanismo da Pensilvânia, o mais radical da Revolução Americana.
Outro ponto chave é o da escravidão, que já nos EUA se mostrava problemático. Em algumas constituições previa-se a extinção da escravidão, ou do tráfico, em outras não. O próprio Jefferson, embora considerasse a escravidão um opróbrio, defendia o regime como necessário para a economia da jovem nação. Ele mesmo possuía 267 escravos na Virgínia.
No caso de Minas, houve quem cogitasse a libertação dos escravos para lutar pela causa, mas a maioria achava isso um perigo e um desastre, pois não haveria "ninguém para trabalhar nas minas". Todos os conspiradores das Gerais, sem exceção, eram escravistas. Cláudio Manuel da Costa tinha 31, o traidor Joaquim Silvério do Reis, mais de 200, Alvarenga Peixoto, 132. Até Tiradentes, o mais modesto deles, possuía cinco escravos. O lema dos conjurados, "Liberdade ainda que tardia", só valia para os brancos inadimplentes.