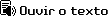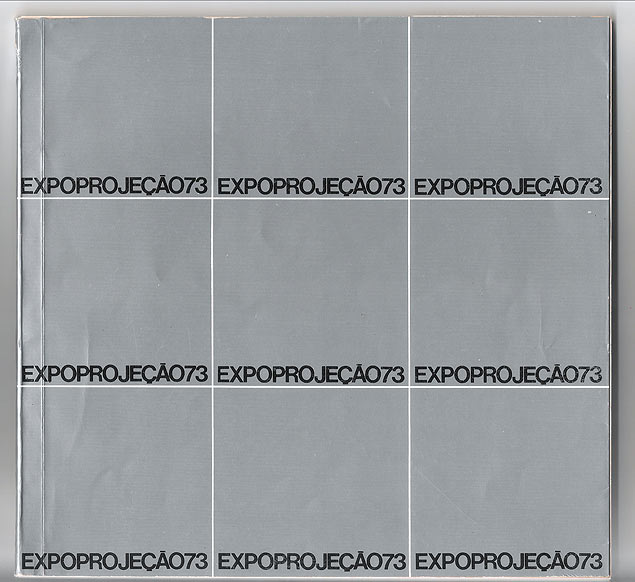Folha de São Paulo
Biografias sobre trilhos
Paralelismos e desencontros em "Anna Kariênina"
RUBENS FIGUEIREDO
RESUMO A presença dos trens no romance de Tolstói (1828-1910) aponta para uma trama subjacente à obra, a das pretensões modernizadoras da Rússia. Mas a imagem ferroviária reflete também o princípio ordenador da trama, em que pares de personagens e situações se desdobram sem se encontrarem, como as paralelas dos trilhos.
O leitor dificilmente deixará de notar o peso da presença dos trens em "Anna Kariênina".
É numa estação ferroviária, por exemplo, que Anna conhece Vrónski, seu futuro amante. Na ocasião, para horror da protagonista, um homem morre esmagado por um trem --ela própria, como se sabe, se suicidará jogando-se sob as rodas de um vagão. As últimas cenas do romance também se passam numa estação, quando Vrónski parte para a guerra como voluntário. Seu intuito é antes morrer do que alcançar um triunfo militar. E o trem é o veículo para obter o que deseja.
Na mesma passagem, primeiro na estação e depois dentro de um vagão, os personagens põem à prova suas visões a respeito da guerra. São inúmeras, no romance, escrito entre 1873 e 1877, as situações em que o trem é fator da ação --elemento presente ou objeto de alusões em conversas, pensamentos ou sonhos.
As ferrovias eram novidade na Rússia. Exprimiam um dos esforços mais salientes para modernizar uma sociedade que se via como atrasada, tolhida por traços pré-capitalistas. As vias férreas eram encaradas não só como um instrumento com fins práticos óbvios num país de território vastíssimo mas também como um símbolo do empenho para equiparar a Rússia aos países ricos.
Por isso é importante ressaltar que Liévin --um dos personagens mais importantes do livro-- manifesta críticas às estradas de ferro.
Sua atitude é ridicularizada por amigos, que mal lhe permitem expor suas objeções e nem mesmo querem ouvi-lo. Nesse aspecto, veem em Liévin um excêntrico ou um provinciano retrógrado. E Tolstói se vale do personagem para apresentar muitas de suas dúvidas e questionamentos em relação ao que a Rússia pretendia fazer de si mesma e ao projeto de integrar o país ao capitalismo.
MAU AGOURO É inevitável lembrar que o próprio Tolstói viria a morrer justamente numa estação de trem. Mas nem é preciso chegar a tanto. Sem sair das páginas do romance, constatamos que a ferrovia está associada ao destino infeliz ou trágico de personagens importantes do livro. Contra esse fundo, o conforto dos vagões de luxo e a comodidade dos deslocamentos rápidos, a despeito da sua imagem orgulhosa de progresso, contêm uma nota de mau agouro.
Se o trem concentra um dos principais temas subjacentes ao romance --a polêmica em torno do projeto modernizador da Rússia--, de outro lado oferece a figura visual constante de dois trilhos paralelos. Isso vem ao caso, pois as linhas paralelas representam um dos princípios mais importantes na estruturação do livro, a constante formal que baliza a ação e ajuda o livro a manter coesas as numerosas e variadas linhas do enredo.
O título nos rascunhos era "Dois Casais", ou "Dois Casamentos". Essa dupla de pares justapostos reforça a imagem das linhas paralelas e traz à mente a imagem dos trilhos. Assim, o casamento integra-se ao tema de fundo do livro e confere uma forma concreta ao mais importante princípio estruturador do romance: o paralelismo.
Do que se diz aqui, alguém que não leu "Anna Kariênina" poderia pensar que se trata de um romance esquemático, escrito com régua e esquadro. Não é nada disso, nem de longe. Não que o forte da prosa de Tolstói seja a sutileza ou a discrição. Não é. Seu ímpeto procura o concreto. Um dos principais méritos do livro, sua abrangência, deve muito ao fato engenhoso de não se prender a um centro.
A distribuição da ação em linhas paralelas, em geral formadas por casais, escapa do perigo de adquirir uma feição mecânica porque tais linhas têm rumos em grande parte independentes. Não seguem uma direção única, estável; seu destino é tortuoso, incerto.
O crítico russo Viktor Chklóvski (1893-1984) estudou os procedimentos estilísticos de Tolstói e sublinhou o paralelismo. Chklóvski cunhou o conceito de construção escalonada, procedimento que se apresenta quando a narrativa desdobra um objeto mediante reflexos e justaposições. Essa é a base do paralelismo em "Anna Kariênina".
Senão vejamos: a constante presença da ferrovia contém um reflexo das linhas paralelas em que se distribuem os casais e os personagens. De maneira mais específica: o acidente ocorrido na chegada de Anna a São Petersburgo no início do livro contém um reflexo da sua própria morte sob as rodas de um trem, no final. E ainda: a frustrada tentativa de suicídio de Vrónski, o amante de Anna, surgirá como um reflexo antecipado do suicídio de Anna. E mais ainda: o livro abre com a crise conjugal por que passa o irmão de Anna. Ela chega à capital para preservar o casamento ameaçado. E consegue. Mas essa crise, vista em retrospecto, surge como um reflexo da crise conjugal da própria Anna, que se desenvolverá nas partes seguintes.
As duas crises conjugais refletem-se. A segunda, a de Anna, se apresenta mais grave do que a primeira, a do irmão: ela se consuma na separação do casal oficial, ao contrário da primeira crise, resolvida com uma conciliação formal. A mesma gradação do mais fraco para o mais forte se verifica nas duas tentativas de suicídio: a primeira --a de Vrónski-- se mostra mais fraca, contornável; a segunda --de Anna-- tem desfecho fatal.
Olhando bem, até nesse quadro de dois pares e de duas ações que se refletem vemos formar-se outro paralelo: o da gradação a que ambos os pares obedecem. O primeiro tem efeito mais fraco; o segundo é conclusivo. O primeiro poderia ser visto como um agouro, um mau sinal. Talvez uma variedade mágica do paralelismo.
Mas voltemos às duas crises conjugais. Elas se refletem, embora tomem rumos distintos. A despeito do motivo comum (o adultério), são independentes, exceto na sua disposição no espaço do romance, pois aí as duas crises conjugais estão presas uma à outra. Ou seja, só a construção do livro cria uma associação entre tais fatos. Os acontecimentos em si mesmos não supõem tal associação.
Outro efeito desses reflexos de ações cronologicamente distantes é o enfraquecimento da noção do tempo linear. Pois, se um objeto ou um fato se reflete em outro, do passado ou do futuro, ambos estão presentes simultaneamente no pensamento: o tempo perde sua força de sequência, de concatenação, e adquire outra forma --a da duração.
DESDOBRAMENTO A técnica do desdobramento do material romanesco permite que Tolstói expanda o romance até alcançar as dimensões incomuns que apresenta, sem perder a coesão.
Não se trata apenas de desdobrar a crise conjugal do irmão de Anna na crise conjugal da própria Anna, como já vimos. Também não se trata apenas de desdobrar o eixo principal da narração em dois casamentos: o de Liévin e Kitty e o de Anna e Vrónski. O próprio casamento de Anna se desdobra em dois: o de Anna com Kariênin e de Anna com Vrónski. E mais ainda: Tolstói dá um passo além e conduz o processo de desdobramento até o âmago da personalidade de Anna.
Refiro-me à passagem em que Anna começa a ser vencida pela indecisão e pela ambivalência da sua situação, na qual tinha um marido e também tinha um amante, sem nada esconder de ambos e sem poder desfazer-se nem de um nem de outro. Diz o texto de Tolstói:
"Anna não só estava pesarosa, como também começava a sentir um pavor diante de um novo estado de espírito, que nunca experimentara. Sentia que em sua alma tudo começava a duplicar-se, como às vezes se duplicam os objetos para os olhos cansados. Às vezes, não sabia o que temia e o que desejava. Não sabia se temia ou se desejava o que existira antes ou o que iria existir, nem sabia exatamente o que desejava."
Logo adiante, o texto diz: Anna "sentiu que sua alma começava a duplicar-se". Quer escrever uma carta para o marido e outra carta para Vrónski. Planeja abandonar o marido, mas quer levar o filho. Tolhida pelas alternativas, Anna se divide entre elas. E esse processo de divisões e subdivisões sucessivas contém um reflexo do processo de duplicação, de desdobramento, que ocorre em paralelo. Pois, na passagem citada, a consciência dividida de Anna engendra um mundo duplicado. Passo a passo, o romance se expande e multiplica as linhas do seu enredo e as projeta em dobro sempre adiante.
Digno de nota é o caso dos filhos de Anna. São dois: um menino, que ela tem com o marido; e uma menina, que tem com o amante. Anna se apega cada vez mais ao menino, o filho do marido, cujas feições se refletem no rosto da criança. No correr do romance, vê-se separada à força do filho e passa a procurá-lo com um ímpeto que toma o aspecto dos anseios de uma mulher apaixonada. De outro lado, Anna repudia a filha que tem com Vrónski. Parece ver na menina uma espécie de usurpadora que pretende tomar a posição do filho.
Esse desdobramento dos filhos e o paralelo formado pelos sentimentos vão se refletir no marido de Anna. Pois o marido, Kariênin, mesmo sabendo que não é o pai da criança, trata a menina com zelo paternal e, sem seu cuidado, talvez a criança nem sobrevivesse aos primeiros dias após o parto. Kariênin jamais se mostrou assim com o próprio filho.
Portanto ele também se duplica: no caso da filha de Vrónski, ele deixa de ser o homem preso às convenções. Chega a tratar com grande consideração o amante da esposa. Desse modo como que atravessa as linhas paralelas que compõem o nosso quadro.
DINAMISMO Nessa situação, tão nitidamente calcada em linhas duplas que se dividem e se desdobram, pode-se ver que o paralelismo em "Anna Kariênina" não se traduz em antíteses, em oposições simétricas, nitidamente contrastantes. Há um dinamismo capaz de dar aos termos de cada um desses paralelos uma boa margem de autonomia, de vida própria.
O reflexo, processo em que os termos de cada par se espelham, confere coesão ao conjunto. O dinamismo que os movimenta evita que essa coesão se prenda a simetrias. Quero dizer, os termos que formam os pares e os paralelos não têm o mesmo peso.
O movimento de linhas paralelas tem um duplo aspecto. Supõe necessariamente uma semelhança, uma vez que as linhas se acham sempre lado a lado: cada uma sempre se refere à outra. Mas também supõe que as linhas nunca estão juntas. Sempre refletidas uma na outra, prendem-se, na verdade, em função de um desencontro.
Assim todos os casais importantes em "Anna Kariênina" se mantêm ligados em função de um constante desencontro. O que distingue os vários casais é seu sucesso ou seu fracasso em manter tal desencontro sob controle.
No caso de Kitty e Liévin --a família supostamente feliz--, esse esforço de estabilidade no desencontro chega ao fim do romance com sinais de um êxito precário. No caso de Anna e seu novo casamento, nunca sancionado socialmente, o desencontro sai do controle. Torna-se insustentável e conduz à destruição a parte mais frágil: a mulher. Nesse aspecto, a construção com base no paralelismo, da forma elaborada por Tolstói --um paralelismo assimétrico--, contém marcas de um mundo social intrinsecamente desigual e opressivo.
Merece lembrança outro paralelo, não mencionado explicitamente no romance, mas postulado em sua concepção geral: o desencontro que prende a Rússia aos países ricos da Europa. Em várias situações de "Anna Kariênina", a vida da elite russa apresenta reflexos desse modelo distante. Basta lembrar a frequência com que se fala francês, inglês e alemão entre as personagens e com que se mencionam obras e conquistas científicas e políticas daqueles países.
Aqui também, a exemplo do que ocorre com os vários casais do livro, os dois termos do par não se encontram. Correm em paralelo, com pesos desiguais. A Rússia e o modelo capitalista estão presos um ao outro em um desencontro constante. Se isso, por sua vez, pode ser visto como um reflexo antecipado --como sinal ou mau agouro-- de outro paralelo do qual somos parte hoje, é uma questão que vale a pena se fazer, quando lemos "Anna Kariênina".
Vida de Tolstói é tema de dois novos livros
As duas biografias se complementam: a de Bartlett busca aproximar o leitor do contexto de Tolstói. Já a de Bassínski centra o foco nos derradeiros dias do escritor
IRINEU FRANCO PERPETUO
Um dos maiores escritores russos de todos os tempos foi também um pensador com influência sobre algumas figuras-chave da história do século 20, como Mahatma Gandhi. Chegam agora ao Brasil duas biografias lançadas no exterior em 2010, por ocasião do centenário de falecimento de Tolstói (1828-1910).
O próprio contraste entre os festejos da efeméride no Ocidente e o silêncio oficial na Rússia mostram o quanto o escritor ainda é incômodo em sua terra natal. "Uma das razões para isso é que, nos últimos 30 anos de vida, ele adotou ideais de vegetarianismo, pacifismo e não violência que não combinam muito com a Rússia de hoje, com sua cultura machista", disse à Folha a britânica Rosamund Bartlett, autora de "Tolstói, a Biografia"[trad. Renato Marques, Globo, R$ 69,90, 640 págs.].
"Ele é tão inconveniente hoje quanto cem anos atrás", afirmou, em 2010, o russo Pável Bassínski, autor de "Tolstói: a Fuga do Paraíso" [trad. Klara Guriánova, Leya, R$ 59,90, 480 págs.].
O autor de "Anna Kariênina" não foi mencionado em pronunciamentos de Putin ou Medvedev, não houve eventos do Ministério da Cultura nem os programas especiais de TV que são de praxe nessas ocasiões. E, apesar dos apelos generalizados, a Igreja Ortodoxa Russa recusou-se a aproveitar a ocasião para "reabilitar" Tolstói, excomungado em 1901.
Uma situação no mínimo paradoxal para um país no qual a literatura desfruta de status análogo ao da música popular no Brasil: o de item definidor da cultura nacional e de afirmação de sua identidade perante o planeta.
Embora o escritor-ícone da Rússia --seu Shakespeare, seu Camões-- seja Púchkin, ele é mais apreciado no país do que fora dele. A penetração da literatura russa no Ocidente é um fenômeno francês da década de 1880, que teve como carros-chefe Dostoiévski e Tolstói, ainda hoje os escritores russos mais valorizados no exterior.
A difusão de Tolstói no Brasil é antiga e, depois da virada do milênio, proliferaram traduções de suas obras-primas feitas diretamente do russo --com destaque para as de Rubens Figueiredo, que se ocupou de seus grandes romances, como "Anna Kariênina", "Guerra e Paz" e "Ressurreição".
As biografias recém-lançadas funcionam de modo complementar. Bartlett tem uma abordagem abrangente, procurando aproximar o leitor ocidental do contexto de Tolstói. Já Bassínski centra o foco no mesmo período abordado pelo filme "A Última Estação" (2009), de Michael Hoffman: os derradeiros dias do escritor.
Partindo de uma pesquisa sobre os ancestrais de Tolstói, o livro da britânica é daqueles a manter à mão. Índice remissivo, cronologia, árvore genealógica, mapa e caderno de imagens formam um aparato de apoio que, na edição brasileira, é enriquecido pelo meticuloso levantamento, feito por Denise Bottmann, da bibliografia do escritor no Brasil, desde o final do século 19 até hoje, indicando quais obras foram vertidas diretamente do russo e quais não.
Especialmente valoroso é o epílogo, chamado "Patriarca dos Bolcheviques", em que Bartlett narra o conturbado destino dos adeptos do escritor e de suas obras depois da Revolução de 1917.
CRISE MÍSTICA O que aproxima Bartlett e Bassínski é um evidente fascínio pelo Tolstói pós-literatura. Por volta de 1877, ele passa por uma "crise mística", da qual emerge professando uma espécie peculiar de cristianismo ascético e hostil à igreja estabelecida. Nos anos subsequentes, vai abrir mão de bens e direitos autorais, repudiar as obras-primas às quais devia sua reputação e adquirir uma aura de santo que transcenderia largamente as fronteiras da Rússia.
Bartlett esmiúça o empenho de Tolstói no campo que talvez pudéssemos chamar de "educação popular" e descreve detalhadamente um dos momentos decisivos para a consolidação de sua autoridade moral: a grande fome da década de 1890, na província de Riazan, em que a ajuda do escritor aos camponeses contrastava dramaticamente com a imobilidade do governo dos czares e a indiferença dos latifundiários.
Embora não os explore a fundo, a autora traça paralelos entre a vida pessoal de Tolstói e seus grandes romances. Nesse aspecto, Bassínski é mais radical: ele parece depreender que qualquer interessado na vida do escritor já conhece "Anna Kariênina" e "Guerra e Paz", passando ao largo dessas obras. Seu objetivo é investigar os dez últimos dias da vida do escritor.
Na noite de 27 para 28 de outubro de 1910, aos 82 anos, Tolstói evadiu-se de sua propriedade rural, em Iásnaia Poliana --uma fuga que só terminaria em 7 de novembro do mesmo ano, com sua morte, na estação ferroviária de Astápovo. Bassínski dedica um capítulo para cada dia da jornada, traçando sua biografia em retrospectiva.
O casal Tolstói mantinha diários que, por determinação do marido, eram lidos por ambos os cônjuges --e, portanto, às vezes mais ricos em recados de parte a parte do que em confissões (quando ele resolveu ter privacidade, começou um outro diário, escondido de sua mulher, Sófia Andrêievna).
Membros da família, amigos e agregados também anotavam suas rotinas, e Bassínski se enreda nesse cipoal de telegramas, cartas e recordações para tentar entender a crise que levou o escritor a fugir.
São abordados com especial detalhamento os sete testamentos de Tolstói, bem como o embate por sua "herança espiritual" entre Andrêievna, e Vladímir Tchertkov, amigo e seguidor que se dedicou a copiar, preservar e divulgar seu legado (sua edição das obras completas do autor continua a ser a principal referência na área).
Embora se baseie exclusivamente em evidências documentais, o autor está longe de ser um narrador distanciado. Assim, ao descrever Tchertkov, afirma: "Não respeitá-lo é impossível. Mas simpatizar com ele é difícil". As chantagens e ameaças de suicídio de Sófia Andrêievna e a deterioração de sua saúde mental também merecem narrativa minuciosa, porém com um toque de simpatia pela mulher "que conviveu quase 50 anos com o homem mais complicado do século 19 e dele teve 13 filhos".
Best-seller na Rússia, onde foi laureada com o prêmio Grande Livro, a obra deixa-se ler como literatura --mas não chega a se aprofundar em questões literárias.
Somadas, as biografias de Bartlett e Bassínski passam de mil páginas "" o tamanho de um romance de Tolstói. Porém quem quiser entender "Anna Kariênina" ou "Guerra e Paz" vai ter que procurar informações em outro lugar.