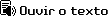Os "ismos" e o poder
Da luta à representação de classes
MARCELO COELHORESUMO Marcos Nobre, professor de filosofia da Unicamp, sintetiza a política brasileira a partir da ideia de "pemedebismo", que designa a fisiologia e a resistência aos movimentos sociais. O conceito poderia ser empregado à recomposição do PT a partir da vitória de Lula, tema do professor de ciência política da USP André Singer.
NA ABERTURA de "Imobilismo em Movimento - Da Abertura Democrática ao Governo Dilma" [Companhia das Letras, R$ 36, 208 págs.], Marcos Nobre diz que o livro é dedicado "às Revoltas [de Junho de 2013]". Assim mesmo, com maiúsculas: as Revoltas de Junho. Há outras maiúsculas subentendidas no ensaio analítico deste professor de filosofia da Unicamp e ex-colunista da
Folha.
Mereceria maiúsculas, por exemplo, o conceito que fundamenta toda a avaliação de Nobre a respeito do funcionamento político brasileiro. Trata-se do que ele chama de "pemedebismo", algo mais amplo e insidioso do que o mero "peemedebismo", com dois "E".
Marcos Nobre não faz referência apenas ao conjunto de práticas e discursos do velho PMDB; praticamente todos os partidos se incluem nessa entidade, cujos intuitos e estratagemas justificariam, a rigor, que Nobre empregasse a caixa-alta: o Pemedebismo.
Estamos diante de "uma cultura política que se estabeleceu nos anos 1980 e que, mesmo se modificando ao longo do tempo, estruturou e blindou o sistema político contra as forças sociais de transformação". Embora o livro de Nobre seja, no geral, muito legível e interessante, vale prestar atenção nessa frase, algo enrolada.
Uma "cultura política" blinda o "sistema político"? Uma coisa estaria agindo sobre a outra? Qual das duas? Ou seria o "sistema" que cria uma "cultura"?
Poderíamos entender o "pemedebismo" como um conjunto de fenômenos conhecidos: fisiologia, fraqueza partidária, resistência aos movimentos sociais. Mas quais as causas, as origens, os porquês desse fenômeno? Ou esse fenômeno é causa e origem de tudo?
Por mais antiquado que possa parecer, não conheço modo melhor para explicar essa "blindagem" do que o recurso a conceitos de inspiração marxista, algo que o livro tende a evitar.
Se não quisermos dar às classes sociais o papel de agentes, de responsáveis pelo surgimento do "pemedebismo", seria preciso provar que o "pemedebismo" sufocou não apenas as reivindicações da esquerda mas também as do empresariado industrial, do agronegócio, dos banqueiros. Será?
Mas, quando se afirma que uma "cultura política" fechou o caminho para reivindicações sociais, pressupõe-se que os setores financeiro, agroexportador e industrial, provavelmente nessa ordem, andaram levando a melhor.
Em vez de apontar para esses setores, o que talvez lhe valesse a crítica de maniqueísmo, Marcos Nobre prefere atribuir ao "Pemedebismo" o papel de personagem principal de seu drama. Do lado oposto, sufocada durante 20 anos, mas renascida com as Revoltas de Junho, estaria a "Voz das Ruas".
Só que acabamos em outro maniqueísmo, afinal, e um bocado mais vago; ironicamente, o esquema de "Imobilismo em Movimento" lembra a retórica do velho PMDB (o bom, o peemedebista com dois "E") no tempo das lutas "do povo" contra o "regime".
Tudo corre o risco de parecer reclamação de torcedor: se nosso time perdeu, o resultado não é legítimo. Como, no jogo da democratização, os movimentos sociais foram derrotados, eis um sinal de que o sistema político não é democrático o suficiente.
Não deixa de ser verdade. Há pouca participação popular, muitos parlamentares se voltam apenas para o enriquecimento pessoal, campanhas custam caríssimo, a manipulação dos marqueteiros substitui qualquer debate.
Lembro que as próprias classes dominantes estão longe de se sentir satisfeitas com seus políticos; no mínimo, desejariam que estes cobrassem menos pelo serviço. Pode ser que seus interesses não estejam sendo atendidos plenamente; mas isso não quer dizer que não estejam sendo atendidos.
RECONSTRUÇÃO Estas críticas pontuais ao livro de Marcos Nobre não fazem justiça ao conjunto, que é principalmente uma reconstrução histórica tão aguda quanto apaixonada das principais decisões de governo nos últimos 20 anos no Brasil.
As teses básicas, e alguns trechos literais, de "Imobilismo em Movimento" são retomadas em "Choque de Democracia" [Breve Companhia, R$ 4,99 ], breve livro eletrônico que Marcos Nobre escreveu em pleno entusiasmo com as manifestações de junho.
Entusiasmo e apaixonamento são coisas admiravelmente expurgadas de "Os Sentidos do Lulismo - Reforma Gradual e Pacto Conservador" [Companhia das Letras, R$ 29,50, 280 págs.], do cientista político e colunista da
Folha André Singer. Ex-porta-voz da Presidência no primeiro mandato de Lula, Singer é capaz de analisar "a frio" a atuação dos petistas no poder.
A principal tese do livro, demonstrada com estatísticas eleitorais na dose certa, já é bastante conhecida a esta altura.
Desde a democratização, a política brasileira teve uma característica curiosa: quanto menor a sua renda, mais o eleitor votava nos candidatos de direita. A simpatia pela esquerda, e pelo PT em geral, sempre foi maior nos setores mais instruídos, mais urbanizados e mais ricos da sociedade.
Uma recomposição, entretanto, ocorreu a partir da vitória de Lula em 2002. As políticas de aumento do salário mínimo, de Bolsa Família e crédito consignado tiveram o condão de "popularizar", pela primeira vez, a base eleitoral do metalúrgico de São Bernardo.
Ironicamente, isso se deu ao mesmo tempo em que o PT abandonava sua prática mais radical, aceitando compor-se com forças políticas atrasadas e oligárquicas. Não que André Singer use vocabulário tão carregado, mas foi esta a "pemedebização" de Lula e do PT, se quisermos falar como Nobre.
Com isso, e mais o mensalão, o PT perdeu a classe média, mas ganhou forte apoio no que André Singer --seguindo seu pai, o economista Paul Singer-- chama de "subproletariado". Na frase ufanista de Juarez Guimarães, que o autor cita aprovativamente, o partido de Lula se tornou "mais samba, mais negro, mais nordestino".
Seria o caso de dizer que saiu daí um maracatu do crioulo doido. O importante, e Singer faz bem em repetir números eloquentes a esse respeito, é que a coisa funcionou, em termos de redistribuição de renda e geração de empregos.
Foi, entretanto, um "reformismo fraco", como o autor está pronto a admitir, em que as concessões iniciais à ortodoxia financeira foram sucedidas por uma espécie de "pacto produtivista" com as classes empresariais, numa conjuntura também favorecida pela disparada dos preços nos produtos de exportação.
Todo esse percurso é exposto num tom de firme serenidade, ainda que as concessões à direita feitas pelo lulismo sejam mencionadas com pouco destaque.
A argumentação de Singer dá mais sinais de fraqueza a partir da metade do livro. Em primeiro lugar, o autor apresenta uma versão um tanto "sacrificial" das atitudes do PT. Foi preciso abandonar convicções face à pressão conservadora e, se isso não fosse feito, haveria o risco de ruptura institucional.
Uma linha de raciocínio alternativa seria a de perguntar se a partir de experiências concretas em municípios como Diadema, Ribeirão Preto e São José dos Campos, o ideário do PT já não estava pronto para transformar-se em simples carapaça, escondendo acordos corruptos com interesses dominantes locais.
Como o foco de Singer é o desempenho do partido nas urnas, há o perigo de sua análise mascarar a questão da "representação de classe". Um eleitorado pobre pode ser conquistado graças a campanhas caríssimas. Como assinala o autor, essas campanhas deixam de depender da militância. Passam (e isso o autor assinala menos) a ser financiadas por grupos de outro tipo: bancos, empreiteiras, grandes conglomerados.
Embora recorra ao modelo da luta de classes, neste sentido o livro faz o trabalho pela metade. Quem um político representa? Seus eleitores ou seus financiadores? O tom mais indignado de Marcos Nobre, e dos manifestantes de junho, faz falta aqui.
Um acordo entre a Fiesp e centrais sindicais, uma aliança entre Lula e um empresário têxtil como José de Alencar seriam de fato evidências significativas de um pacto entre classes? Qual a representatividade desses personagens? Seria mais notável do que as relações, digamos, entre José Dirceu e o dono da Embratel, Carlos Slim, de quem o ex-ministro é consultor?
Que seja. Ironicamente, a velha crítica petista ao populismo de Vargas, acusado de mediar os interesses de operários e patrões, é reinterpretada de uma ótica favorável ao petismo --ou de seja lá o que restou dele.
Para André Singer, algo resta. O "espírito do Sion", como ele denomina o esquerdismo presente na reunião em que o partido foi fundado, sobrevive por exemplo na Fundação Perseu Abramo, instituto teórico do partido. Feita a homenagem, imagino figuras como Antonio Palocci assentindo gravemente com essa avaliação.